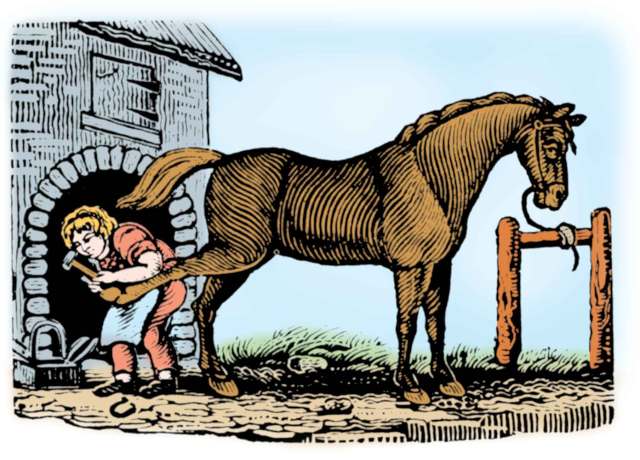Dois dos livros que mais gosto na praia da ficção foram escritos por cidadãos britânicos. Nisso eu posso ser e até fui bem patrulhado como um chauvinista de mente incorrigivelmente colonizada, e faço até gosto, pois noves fora a literatura, meus queridinhos na música são ingleses (aquela banda do George Harrison) e em outro terreno dos passatempos ocidentais – a ciência – sou darwinista de carteirinha. Mas não é só pelo sotaque britânico que minha confissão literária pode render apedrejamento. As obras de que estou falando são Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, do irlandês (e, não, inglês, vá lá) Abraham Stoker.
Dois dos livros que mais gosto na praia da ficção foram escritos por cidadãos britânicos. Nisso eu posso ser e até fui bem patrulhado como um chauvinista de mente incorrigivelmente colonizada, e faço até gosto, pois noves fora a literatura, meus queridinhos na música são ingleses (aquela banda do George Harrison) e em outro terreno dos passatempos ocidentais – a ciência – sou darwinista de carteirinha. Mas não é só pelo sotaque britânico que minha confissão literária pode render apedrejamento. As obras de que estou falando são Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, do irlandês (e, não, inglês, vá lá) Abraham Stoker.
Até que o livro de Shelley nem é problema. Primeiro, porque a menina tem pedigree. É filha da filósofa feminista Mary Wollencraft, esposa do finíssimo poeta Percy Shelley e amigona de Lorde Byron, outro monstro sagrado da pena inglesa, guru do movimento romântico. E Shelley não era dama de companhia dessas feras. Escrevia muito e escrevia bem, ensaísta, editora e tão ou mais politicamente ativista que a mãe. E a própria obra mencionada, Frankenstein, tem seu lugar ao sol na lista de boas leituras do mundo.
Por falar em Shelley (o marido) e Byron, é bem conhecida a história (tem filme e tudo sobre isso, um filme bem doidão: “Gothic”, de 86) em que os dois, mais o ítalo-inglês John William Polidori, passaram uma bizarra noite na companhia de Shelley (a esposa), e desse rendezvous opiácio, com a borbulhante colaboração do láudano, brota o argumento de Frankenstein. Polidori é outra figuraça. Foi considerado culpado por introduzir o tema “vampiro” na literatura ocidental, com um conto seu chamado, adivinhe só, “The Vampyre”. E aí está a deixa pra pularmos pro Drácula.
 Bram Stoker não tem a proeminência, o reconhecimento, as qualidades e muito menos o sangue azul literário de Shelley. Escreveu muita coisa aqui e outras ali, mas suas melhores pontuações no currículo (fora, é claro, Drácula) são ter se casado com a ex-namorada de Oscar Wilde, ter sido amigo do ator Henry Irwin e ter dirigido o teatro londrino Lyceum, de propriedade do próprio Irwin. Dizem que a figura de Irwin inspirou a criação da figura do Conde Drácula. Sim ou não, o certo é que o cara é a cara cuspida do Christopher Lee.
Bram Stoker não tem a proeminência, o reconhecimento, as qualidades e muito menos o sangue azul literário de Shelley. Escreveu muita coisa aqui e outras ali, mas suas melhores pontuações no currículo (fora, é claro, Drácula) são ter se casado com a ex-namorada de Oscar Wilde, ter sido amigo do ator Henry Irwin e ter dirigido o teatro londrino Lyceum, de propriedade do próprio Irwin. Dizem que a figura de Irwin inspirou a criação da figura do Conde Drácula. Sim ou não, o certo é que o cara é a cara cuspida do Christopher Lee.
Sobre Drácula, só posso dizer o seguinte: conheço bem a história do Conde, do caçador de vampiros Van Helsing e do casal atormentado Jonathan e Mina Hacker desde pirralho (sempre me afeiçoei a esse nobre vampirão – no sentido platônico, que fique claro), mas só agora, no alborecer dos meus quarenta, me dispus a ler, de fato e de cabo a rabo, o volume. E até onde eu tenha algum crédito para avaliar méritos literários, tem mesmo muita coisa melhor por aí, mas não é por aí que eu gosto da obra. O buraco – e a razão de ser deste texto – é em outro lugar.
Graças a Hollywood, e, mais tarde, a toda uma indústria do entretenimento light ocidental – da Família Addams até à incrível turma do Penadinho -, Frankenstein e Drácula viraram aquilo que nunca foram. O livro de Shelley não é sobre um cientista maluco irresponsavelmente brincando de Deus, e o texto de Stoker não é a vitória do amor cristão sobre as forças sensuais do mal. Definitivamente, não, e desafio para um duelo (de verdade, com arma escolhida e tudo) quem, nesse ponto, insistir no meu contrário.
 Frankenstein leva às últimas consequências (emocionais, pedagógicas, políticas) a proposta do doutor Erasmus Darwin (avô de meu ídolo Charles) de que a vida é animada por um fluxo energético (a “eletricidade animal”, de Luigi Galvani), e, ainda assim, deve ser cuidada – amada – para a vida realizar-se plenamente como vida.
Frankenstein leva às últimas consequências (emocionais, pedagógicas, políticas) a proposta do doutor Erasmus Darwin (avô de meu ídolo Charles) de que a vida é animada por um fluxo energético (a “eletricidade animal”, de Luigi Galvani), e, ainda assim, deve ser cuidada – amada – para a vida realizar-se plenamente como vida.
Drácula também tece considerações divertidas sobre o que é ser ou estar vivo, mas esse é o subtema mais ingenuozinho da obra. O livro dá asas à pilhéria de Stoker com o status auto afirmado da ciência, num ponto absolutamente fundamental: o lugar da verdade. Stoker, a par de suas diatribes literárias, formou-se em matemática no famoso Trinity College, de Dublin (frequentada por outro irlandês bamba, Jonathan Swift, cuja obra, Gulliver, também teve o triste destino de ser ensalsichada pela cultura da irrelevância). Regozijo-me em saber que o matemático Stoker não estava alheio à maior e mais longeva história de mistificação de uma instituição, desde que Platão fundou a Academia: os cientistas são uma raça de pessoas especiais que apontam para a verdade.
É curioso que Shelley e Stoker tenham escolhido, para heróis científicos de suas obras, não súditos da coroa britânica, mas, respectivamente, um suíço e um holandês. Nietzsche costumava gozar a cara dos ingleses dizendo que eles são comerciantes, nada mais que comerciantes. Pode ser, mas também deve ser que, para ser um bom comerciante, é preciso estar preparado para seduzir o freguês com algo melhor que a própria mercadoria. Shelley (post facto, é claro) e Stoker rendem-se ao deboche de Nietzsche ao buscar em terras de fala (e, portanto, mente) mais germanizada, a personificação romântica do amor genuíno pelo explicar as coisas do mundo. Mesmo Van Helsing, holandês, é caracterizado no Drácula com forte sotaque germânico e cheio de expressões alemãs (“Mein Gott!”) talvez para afastá-lo um pouco de Amsterdã, afinal, também terra de comerciantes (em que outro lugar do mundo putas e maconheiros são vistos por tradicionais turistas mineiros de toda parte, do Brasil inclusive, como pitorescos atrativos locais?).
O suíço Victor Frankenstein da obra de Shelley está longe de ser um Hugo A-Go-Go, vilão de Batfino. Sim, há loucura em Frankenstein, mas ela transita por seu amor pela namorada, pelos parentes, pelos amigos, tanto quanto em seu amor por explicar os fenômenos do universo (e um amor não exclui, mas alimenta, o outro). O sucesso e a tragédia científicas de Frankenstein ao criar “o monstro” refletem a diferença de perspectiva sobre a “positividade” da ciência que existe entre a criatura Victor Frankenstein, leitor de Galvani, e a de sua criadora Mary Shelley, leitora de Erasmus Darwin. E por falar em Batfino, voltemos ao cientista de Drácula.
 Abraham Van Helsing ganhou o prenome de seu criador, Stoker, talvez porque o autor o considerasse um grande sujeito. Também acho. Van Helsing é chamado à Inglaterra por seu ex-discípulo, John Seward, para ajudar no caso da misteriosa doença de Lucy Westenra, uma patricinha enricada, cobiçada por três personagens do livro (o Dr. Seward, inclusive). Dr. Seward é um cientista prototípico, na visão de Bram Stoker. Não um cientista louco, longe disso. De fato, o contrário disso. Ele dirige um asilo para doentes mentais, e é fera na craniometria, muito em voga no século 19, um tipo assim como “O Alienista”, de Machado de Assis.
Abraham Van Helsing ganhou o prenome de seu criador, Stoker, talvez porque o autor o considerasse um grande sujeito. Também acho. Van Helsing é chamado à Inglaterra por seu ex-discípulo, John Seward, para ajudar no caso da misteriosa doença de Lucy Westenra, uma patricinha enricada, cobiçada por três personagens do livro (o Dr. Seward, inclusive). Dr. Seward é um cientista prototípico, na visão de Bram Stoker. Não um cientista louco, longe disso. De fato, o contrário disso. Ele dirige um asilo para doentes mentais, e é fera na craniometria, muito em voga no século 19, um tipo assim como “O Alienista”, de Machado de Assis.
Coisas impressionantes ocorrem com a bela Lucy, mas é preciso que tais “impressões” se avolumem até o limite do tenebroso para que o positivo Dr. Seward se dê conta de que se trata de um caso, bastante corriqueiro, se me permitem colocar assim, de vampirismo. Se é mesmo de evidências que vive a ciência, como, com tantas delas à disposição, o calejado cientista não se dá conta do que realmente acontece? Drácula está repleto de puxões de orelhas nessa confiança arrogante, nesse privilégio institucionalizado da detecção da verdade. Reproduzo aqui a leve palmada aplicada pelo professor Van Helsing em seu cético aluno:
“Você é uma mente sagaz, meu caro John. Sempre raciocinou com clareza e a sua mente é obstinada. Mas costuma frequentemente prejulgar as coisas. Não espera que seus olhos vejam e seus ouvidos ouçam, e tudo aquilo que diuturnamente acontece ao redor de sua própria vida parece não lhe despertar o mínimo interesse. Não consegue admitir que ainda existem muitas coisas que sua percepção não compreende, todavia elas estão aí”.
Sim, elas estão aí. Não é à toa que, apesar de enaltecer a bravura e a devoção cristã de todos os heróis da história que lutam contra o vampiro, é ao próprio Conde Drácula que Van Helsing concede os melhores elogios, de natureza, digamos, intelectual. Drácula é “celebrado como o mais sábio, o mais destro e o mais bravo dos filhos das terras situadas além das densas florestas”. O que torna Drácula elogiável como cientista – no melhor do termo, para Van Helsing – não são seus incríveis poderes malignos, mas os séculos de experiência aguçando suas possibilidades de entendimento muito mais que seus caninos (como naquele gracioso refrán: “más sabe el diablo por viejo que por diablo”). Van Helsing alerta sobre o perigo de alguém assim, criado e experimentado nas antigas terras dos magiares, dos mongóis, dos hunos, “na China, nos mais longínquos rincões da Terra”, fazer das suas logo na arrogante Inglaterra, terra que não apenas engatinha na arte do querer saber, mas até se esquiva disso: “Quem dentre nós teria sequer admitido tal possibilidade, em plena vigência do século 19, a científica era dos céticos e dos adeptos dos fatos comprovados”? Pergunta o professor.
 Hoje, e, digamos, no Brasil, não estamos provavelmente às voltas com o perigo de um iminente ataque de vampiros. Mas, acredite, hay outras bruxas soltas por aí. Tal como Shelley e Van Helsing (se posso misturar criadores e criaturas), penso que muitas das querelas atuais que envolvem nossas redes de conversas são vampirescamente infectadas por um olhar injusto sobre o afazer científico. Não tenho a mínima esperança (ou receio) de que os cientistas sejam exímios caçadores de verdades, mas isso não deve ser motivo de desespero pra ninguém.
Hoje, e, digamos, no Brasil, não estamos provavelmente às voltas com o perigo de um iminente ataque de vampiros. Mas, acredite, hay outras bruxas soltas por aí. Tal como Shelley e Van Helsing (se posso misturar criadores e criaturas), penso que muitas das querelas atuais que envolvem nossas redes de conversas são vampirescamente infectadas por um olhar injusto sobre o afazer científico. Não tenho a mínima esperança (ou receio) de que os cientistas sejam exímios caçadores de verdades, mas isso não deve ser motivo de desespero pra ninguém.
Debates como os das “guerras científicas”, aquelas que colocam os cientistas de laboratório (ou uma caricatura deles) às turras com os cientistas das humanidades (ou uma caricatura deles) podem ser divertidos para fazer frisson na mídia, mas estão assentados em uma disputa vazia. Nem a Ciência com “c” maiúsculo – os físicos, os biólogos, alguns linguistas – tem a missão sagrada e solitária de desvendar um mundo independente das experiências partilhadas por estes cientistas, nem as Humanidades com “H” maiúsculo – os antropólogos, os psicólogos, alguns linguistas – têm a missão sagrada e solitária de fazer sociologia das outras ciências independente das experiências partilhadas por estes cientistas.
 Outro debate que já deu o que tinha que ter dado há séculos (Drácula deve se lembrar dele) é a disputa pelo fogo prometeico da verdade entre a ciência e a religião. Ou entre as ciências e as religiões, se preferir. Ele não se esgota, e até mesmo, recentemente, tem se renovado, exatamente por nada ter de religioso ou científico. Trata-se de uma questão política. O fenômeno da evolução é uma de suas vítimas preferidas, principalmente na sua versão mais tragicômica (e chauvinista, pois finge que a evolução existe para o humano): a humanidade é descendente de macacos ou foi criada por um deus? Se você prefere a primeira resposta, saiba que ela não é resposta para nada. Evolução não é uma teoria que explica coisa alguma: é um fenômeno que deve, como tal, ser explicado pelos cientistas. E se você optou pela segunda resposta, ótimo.
Outro debate que já deu o que tinha que ter dado há séculos (Drácula deve se lembrar dele) é a disputa pelo fogo prometeico da verdade entre a ciência e a religião. Ou entre as ciências e as religiões, se preferir. Ele não se esgota, e até mesmo, recentemente, tem se renovado, exatamente por nada ter de religioso ou científico. Trata-se de uma questão política. O fenômeno da evolução é uma de suas vítimas preferidas, principalmente na sua versão mais tragicômica (e chauvinista, pois finge que a evolução existe para o humano): a humanidade é descendente de macacos ou foi criada por um deus? Se você prefere a primeira resposta, saiba que ela não é resposta para nada. Evolução não é uma teoria que explica coisa alguma: é um fenômeno que deve, como tal, ser explicado pelos cientistas. E se você optou pela segunda resposta, ótimo.
Mesmo assim, isso nada tem a ver com o domínio da ciência, mesmo se for a mais absoluta verdade. Isso porque a ciência não serve pra dizer verdades, mas para explicar os fenômenos tal como entendidos pelos cientistas. Dizer que um deus criou alguma coisa pede (cientificamente falando, é claro), ao menos, que se explique como isso aconteceu. Se esse debate absurdo continua, é porque certos grupos políticos – em especial, a direita evangélica norte-americana, e suas filiais mundo afora, especialmente na África e na América Latina – esperam ganhar espaço institucional (leia-se: almas, poder e grana) vendendo asnices como a “teoria do criacionismo científico” e a “teoria do design inteligente”. Sinto dizer, pra quem gosta de comprar essas bobagens, que elas nada têm de teoria, nada têm de científico, nada têm de inteligente, e são criações medíocres com péssimo design.
Termino este desabafo literário-científico com um exemplo de onde, de fato, eu penso residir a verdade.
Os coprólitos (palavra do grego: pedra de cocô) são fezes de humanos ou outros animais (é claro), no mais das vezes fossilizadas. Por sua conservação, podem oferecer valiosos vestígios físicos, fisiológicos e até moleculares, seja de organismos que viviam nos intestinos do indivíduo defecador, seja do próprio animal que produziu a agora petrificada cagada. É difícil achar uma fonte tão rica de informações sobre o passado quanto os coprólitos. Por exemplo, examinando um cocô desses dá pra conhecer ao menos em parte a dieta de um animal morto há milhares ou milhões de anos, os locais por onde ele transitava (comparando o paleoambiente da região com as amostras do coprólito), os animais com quem ele se relacionava, e se ele tinha vermes ou outras doenças.
 Devia haver um ditado chinês para isso, do tipo: “se você quiser conhecer a verdade, examine detidamente toda merda que encontrar, mesmo que ela esteja endurecida há séculos”.
Devia haver um ditado chinês para isso, do tipo: “se você quiser conhecer a verdade, examine detidamente toda merda que encontrar, mesmo que ela esteja endurecida há séculos”.